http://www.pambazuka.org/pt/category/features/90227
Trincheira neoliberal, shopping é “paraíso sem povo”
Emir Sader
2014-01-15, Edição 65

Na
sua fase neoliberal, o capitalismo implementa, como nunca na sua
história, a mercantilização de todos os espaços sociais. Se disseminam
os chamados não-lugares – como os aeroportos, os hotéis, os
shopping-centers –, homogeneizados pela globalização, sem espaço nem
tempo, similares por todo o mundo.
Quase já se pode nascer e morrer num shopping. Só faltam a maternidade e o cemitério, porque hotéis já existem.
Na sua fase neoliberal, o capitalismo implementa, como nunca na sua
história, a mercantilização de todos os espaços sociais. Se disseminam
os chamados não-lugares – como os aeroportos, os hotéis, os
shopping-centers –, homogeneizados pela globalização, sem espaço nem
tempo, similares por todo o mundo.
Os shopping-centers representam a centralidade da esfera mercantil em
detrimento da esfera pública, nos espaços urbanos. Para a esfera
mercantil, o fundamental é o consumidor e o mercado. Para a esfera
pública, é o cidadão e os direitos.
Os shoppings-centers representam a ofensiva avassaladora contra os
espaços públicos nas cidades, são o contraponto das praças públicas. São
cápsulas espaciais condicionadas pela estética do mercado, segundo a
definição de Beatriz Sarlo. Um processo que igualiza a todos os
shopping-centers, de São Paulo a Dubai, de Los Angeles a Buenos Aires,
da Cidade do México à Cidade do Cabo.
A instalação de um shopping redesenha o território urbano, redefinindo,
do ponto de vista de classe, as zonas onde se concentra cada classe
social. O centro – onde todas as classes circulavam – se deteriora,
enquanto cada classe social se atrincheira nos seus bairros, com claras
distinções de classe.
Os shopping, como exemplos de não-lugares, são espaços que buscam fazer
com que desapareçam o tempo e o espaço – sem relógio e sem janelas — ,
em que desaparecem a cidade em que estão inseridos, o pais, o povo.
A conexão é com as marcas globalizadas que povoam os shopping-centers de
outros lugares do mundo. Desaparecem os produtos locais – gastronomia,
artesanato –, substituídos pelas marcas globais, as mesmas em todos os
shoppings, liquidando as diferenças, as particularidades de cada pais e
de cada povo, achatando as formas de consumo e de vida.
O shopping pretende substituir à própria cidade. Termina levando ao
fechamento dos cinemas tradicionais das praças publicas, substituídos
pelas dezenas de salas dos shoppings, que promovem a programação
homogênea das grandes cadeias de distribuição.
O shopping não pode controlar a entrada das pessoas, mas como que por
milagre, só estão aí os que tem poder aquisitivo, os mendigos, os
pobres, estão ausentes. Há um filtro, muitas vezes invisível,
constrangedor, outras vezes explicito, para que só entrem os
consumidores.
Nos anos 1980 foi organizado um passeio de moradores de favelas no Rio
de Janeiro a um shopping da zona sul da cidade. Saíram vários ônibus,
com gente que nunca tinham entrado num shopping.
As senhoras, com seus filhos, sentavam-se nas lojas de sapatos e se
punham a experimentar vários modelos, vários tamanhos, para ela e para
todos os seus filhos, diante do olhar constrangido dos empregados, que
sabiam que eles não comprariam aqueles sapatos, até pelos seus preços.
Mas não podiam impedir que eles entrassem e experimentassem as
mercadoras oferecidas.
Criou-se um pânico no shopping, os gerentes não sabiam o que fazer, não
podiam impedir o ingresso daquelas pessoas, porque o shopping
teoricamente é um espaço público, aberto, nem podiam botá-los pra fora.
Tocava-se ali no nervo central do shopping – espaço público privatizado,
porque mercantilizado.
O shopping-center é a utopia do neoliberalismo, um espaço em que tudo é
mercadoria, tudo tem preço, tudo se vende, tudo se compra. Interessa aos
shoppings os consumidores, desaparecem, junto com os espaços púbicos,
os cidadãos. Os outros só interessam enquanto produtores de mercadorias.
Ao shopping interessam os consumidores.
Em um shopping chique da zona sul do Rio, uma vez, uns seguranças viram
um menino negro. Correram abordá-lo, sem dúvida com a disposição de
botá-lo pra fora daquele templo do consumo. Quando a babá disse que ela
era filho adotivo do Caetano Veloso, diante do constrangimento geral dos
seguranças.
A insegurança nas cidades, o mau tempo, a contaminação, o trânsito,
encontra refúgio nessa cápsula, que nos abriga de todos os riscos. Quase
já se pode nascer e morrer num shopping – só faltam a maternidade e o
cemitério, porque hotéis já existem.
A utopia – sem pobres, sem ruídos, sem calçadas esburacadas, sem meninos
pobres vendendo chicletes nas esquinas ou pedindo esmolas, sem
trombadinhas, sem flanelinhas. O mundo do consumo, reservado para
poucos, é o reino absoluto do mercado, que determina tudo, não apenas
quem tem direito de acesso, mas a distribuição das lojas, os espaços
obrigatórios para que se possa circular, tudo comandado pelo consumo.
Como toda utopia capitalista, reservada para poucos, porque basta o
consumo de 20% da população para dar vazão às mercadorias e os serviços
disponíveis e alimentar a reprodução do capital.
Mas para que essas cápsulas ideais existam, é necessário a super
exploração dos trabalhadores – crianças, adultos, idosos – nas oficinas
clandestinas com trabalhadores paraguaios e bolivianos em São Paulo e em
Buenos Aires, em Bangladesh e na Indonésia, que produzem para que as
grandes marcas exibam as roupas e os tênis luxuosos em suas
esplendorosas lojas dos shoppings.
O choque entre os mundo dos shoppings e o dos espaços públicos
remanescentes – praças, espaços culturais, os CEUS de São Paulo, os
clubes esportivos públicos – é a luta entre a esfera mercantil e a
esfera pública, entre o mundo dos consumidores e o mundo dos cidadãos,
entre o reino do mercado e a esfera da cidadania, entre o poder de
consumo e o direito de todos.
É um enfrentamento que está no centro do enfrentamento entre o
neoliberalismo e o posneoliberalismo, entre a forma extrema que assume o
capitalismo contemporâneo e a formas de sociabilidade solidaria das
sociedades que assumem a responsabilidade de construir um mundo menos
desigual, mais humano.
*Emir Sader é sociólogo brasileiro.
*AS OPINIÕES DO ARTIGO ACIMA SÃO DO AUTOR(A) E NÃO REFLETEM NECESSARIAMENTE AS DO GRUPO EDITORIAL PAMBAZUKA NEWS.
* PUBLICADO POR PAMBAZUKA NEWS
* Pambazuka não está garantido! Torne-se um!
amigo do Pambazuka e faça uma doação AGORA e ajude o Pambazuka a manter-se GRATUITO e INDEPENDENTE!
* Por favor, envie seus comentários para
editor[at]pambazuka[dot]org ou comente on-line
Pambazuka News.


 Caso Paiol de Telha
Caso Paiol de Telha





















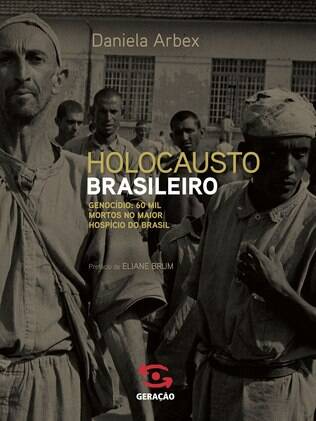

 À esquerda vestido Altuzarra e longo Calvin Klein (Getty Images)
À esquerda vestido Altuzarra e longo Calvin Klein (Getty Images) Looks Elie Saab e Stela McCartney (Fotos:Getty Images)
Looks Elie Saab e Stela McCartney (Fotos:Getty Images) Vestidos Mary Katrantzou e Carolina Herrera (Fotos: Getty Images)
Vestidos Mary Katrantzou e Carolina Herrera (Fotos: Getty Images)




dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247.
Caso perceba algum comentário agressivo ou publicado por algum troll,
ajude-nos a limpar esta área, escrevendo para contato@brasil247.com.br